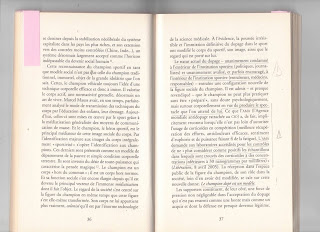To end this 2020 year with a hell of a movie!
António Damásio. "As capacidades afetivas são os alicerces da nossa mente"

No seu mais recente livro, Sentir & Saber, explica passo a passo a formação da consciência. E dá exemplos que vão desde as plantas às máquinas que sentem.
António Damásio tem dedicado a sua vida a estudar a anatomia do cérebro e a sua relação com os fenómenos da consciência. A publicação, há 25 anos, de O Erro de Descartes, em que denunciava a sobrevalorização das capacidades cognitivas puras, em detrimento das capacidades afetivas, revolucionou a forma como encaramos a consciência e o conhecimento. Agora, em Sentir &_Saber (ed. Temas e Debates/Círculo de Leitores), regressa a esse tema, explicando passo a passo a história da vida, desde o aparecimento dos primeiros organismos há quatro mil milhões de anos até aos processos cognitivos complexos que têm lugar no nosso corpo. Conversámos com o neurocientista, galardoado com o Prémio Pessoa (em conjunto com a mulher, Hanna) e com o Prémio Príncipe das Astúrias de Investigação Científica e Técnica, à distância, através do skype.
Ainda é cedo em Los Angeles, são dez e meia da manhã. O seu dia de trabalho começa com algum ritual particular?
Não. Começa quando tem de começar. Às vezes, quando tenho ligações com a Europa, começa às seis ou sete da manhã. E não me deito cedo… Mas depende.
Los Angeles é uma cidade que a maioria de nós associa ao mundo do espetáculo e do prazer, e também à criação artística – mas não tanto ao conhecimento. Isto corresponde à realidade ou é apenas uma ideia feita?
É uma ideia feita, e digo-lhe mais: é uma ideia mal feita. [risos] Los Angeles é uma cidade que tem tudo. É um mundo onde existem talvez as mais notáveis universidades de qualquer parte. Tem três grandes universidades internacionais. Uma é a CalTech, o California Institute of Technology, que está ao nível do MIT. Tem também a University of Southern California, USC, que é a minha universidade e é a mais antiga da Califórnia [fundada em 1880]. E tem a UCLA, que faz parte do grande sistema das universidades da Califórnia. Portanto, pelo contrário, aquilo que é mais característico de Los Angeles são grandes instituições de ciência e de humanidades. É claro que aquilo que domina as notícias são as coisas que têm a ver com Hollywood, e Hollywood também está aqui.
E são mundos separados ou tocam-se?
Separados, mas tocam-se nalguns aspetos. Há tanto a grande tecnologia, como o mundo das artes e o mundo das humanidades. Tudo isso está aqui presente. Por exemplo, os grandes museus. Tem o Getty mas também o LACMA, e variadíssimos outros, museus grandes e pequenos, que têm coleções de arte maravilhosas. São Francisco é mais conhecida, porque é particularmente bonita – não é que Los Angeles seja feio – mas é uma cidade mais pequena que Lisboa, que é uma noção que as pessoas não têm, enquanto Los Angeles é do tamanho de Portugal, tem dez milhões de habitantes.
Gostava que me falasse muito sucintamente sobre as suas aulas. Quem são os seus alunos? São jovens ou investigadores já com um percurso sólido?
Neste momento são praticamente todos investigadores. Eu sou diretor do Brain and Creativity Institute, que é um instituto de investigação científica, e que tem ligado a ele um centro de criação artística com um auditório para música, teatro e cinema. As duas coisas fundem-se. Mas as pessoas que eu treino, que você descreve como os meus alunos…
Se calhar não é a designação mais exata…
São graduate students [doutorandos] ou postdoc. São pessoas que estão já numa carreira científica e que estão a especializar-se em diversos aspetos, seja das neurociências, das ciências cognitivas ou da filosofia. Esse ensino não acontece em salas de aula, no sentido corrente, mas sim em gabinetes de laboratórios, onde geralmente não estão 200 pessoas nem sequer uma centena, mas em grupos de meia dúzia de pessoas. Quando há aquilo a que chamamos laboratory meetings podem estar trinta ou quarenta pessoas, que é a capacidade máxima do laboratório.
E tratam de questões mais técnicas, relacionadas por exemplo com a anatomia do cérebro, ou de questões mais filosóficas?
Tudo. Claro que há o aspeto fundamental que tem a ver com aspetos da neurobiologia, que vão desde descrições neuroanatómicas de estruturas do sistema nervoso a estudos do sistema biológico. E tem também um certo pendor filosófico, porque há pessoas que não estão propriamente a trabalhar em aspetos técnicos da neurobiologia, mas sim em aspetos da reflexão sobre os dados que vamos recolhendo.
Ouvimos falar muito do cérebro, mas o seu livro chama-nos a atenção para o sistema nervoso. Como poderíamos definir o sistema nervoso? É uma espécie de correia de transmissão entre a matéria e as sensações, entre o corpo e a mente?
Para responder à sua pergunta vamos primeiro fazer uma distinção entre sistema nervoso e cérebro. Quando se fala de cérebro estamos a falar de qualquer coisa relativamente bem localizada, aquilo que está dentro da sua caixa craniana e que decorre da caixa craniana em relação ao tronco cerebral e à medula espinal. Isso é aquilo a que se chama cérebro no falar corrente. E tem muito a ver com outra definição técnica, que é o sistema nervoso central. Depois temos todo um outro sistema nervoso – que está ligado a esse, evidentemente – que é o sistema nervoso periférico. E esse é feito de todos os prolongamentos nervosos que saem do sistema nervoso central, são as fibras nervosas que vêm do sistema nervoso central para todas as partes do corpo e vão de toda a periferia de todas as partes do corpo a caminho do sistema nervoso central. Existe portanto uma interligação completa entre o corpo – em todas as suas dimensões, tanto no aspeto exterior como no aspeto interior – e o sistema nervoso central. Essa interligação é feita de duas maneiras: através daquilo a que se pode chamar nervos; e através de moléculas químicas, umas que partem do sistema nervoso a caminho de diversas partes do corpo e outras que estão a estimular o sistema nervoso propriamente dito.
Neste livro descreve a evolução do detetar para o sentir e do sentir para o saber. Até aqui, esta evolução tem sido sempre no sentido de produzir seres cada vez mais ricos, mais completos e complexos. Mas vamos continuar a evoluir indefinidamente ou poderá haver um momento em que este processo se inverte e começa a tender à simplificação?
Essa é uma pergunta interessante mas a que não temos maneira de responder. O que podemos verificar é que, até hoje, se deu uma evolução. Os organismos vivos começaram de uma forma relativamente simples – eu gosto sempre de dizer que é simples mas não é, é simples quando compara com organismos muito complexos como você ou eu, mas já tem uma complexidade extraordinária. Por outras palavras, não é possível ser vivo sem ter uma grande complexidade, mas é aceitável que se fale de organismos (como as bactérias) como organismos simples em comparação connosco. Até hoje tem havido uma complexificação constante, que começa com organismos relativamente simples e unicelulares, e vai até organismos como nós, pluricelulares e extremamente complexos. Mas não temos maneira de saber se continuará a ser sempre assim.
Um fotógrafo da National Geographic com quem falei uma vez dizia-me que até as moscas têm de ser inteligentes para serem tão bem-sucedidas como espécie ao longo de tantos milénios. As moscas são mesmo inteligentes ou é abusivo falar de inteligência neste caso?
Não é abusivo de todo. Neste livro eu falo de competências implícitas e de inteligência implícita. Uma das ideias fundamentais é que quanto mais estudamos a biologia, mais verificamos que há uma capacidade que não se pode descrever de outra maneira que não inteligência. É essa capacidade que permite resolver problemas e ajustar o comportamento de um ser vivo a esses problemas de forma a permitir a continuação da vida. E essa é a definição fundamental de inteligência: você faz um ato inteligente quando esse ato o ajuda a continuar a sua vida, o ajuda a sobreviver e a sobreviver com qualidade de vida. Isso é uma coisa que os seres vivos, desde os simples aos complexos, têm vindo a fazer ao longo da história da vida. Aquilo que acontece é que há seres vivos em que a inteligência é conhecida pelo próprio ser vivo – como nós, que temos a consciência do problema e de o tentar resolver mais ou menos inteligentemente – e há seres vivos à nossa volta que não têm essa capacidade. A maior parte dos seres vivos, tanto na história da vida como os que existem hoje na Terra, não tem essa capacidade de conhecer a sua própria inteligência.
Mas também há situações em que nós próprios podemos perder essa capacidade. Enquanto estava a preparar esta entrevista lembrei-me de um artigo publicado na altura da morte do escritor Gabriel García Marquez. O autor do artigo relatava um último encontro entre o escritor e um outro amigo, à mesa de um café. Na altura, García Márquez, que já estava diminuído e demenciado, disse-lhe assim: ‘Não sei quem tu és, mas sei que gosto muito de ti’. Ele já não conseguia reconhecer aquela pessoa mas ainda tinha ficado lá qualquer coisa.
Tinha ficado lá qualquer coisa que é extremamente importante. Aquilo que você está a descrever é a dissociação entre capacidades puramente cognitivas e capacidades afetivas. A mensagem principal do meu trabalho – e do livro que você aí tem – é a de que as capacidades afetivas têm sido sistematicamente menosprezadas pela nossa cultura, pelo melhor da nossa cultura, não apenas hoje, mas na cultura filosófica tradicional. Mas essas capacidades afetivas são fundamentais em muitos aspetos. São fundamentais porque são as primeiras. Em relação a criaturas como nós são a foundation, os alicerces da nossa mente, daquilo que é o nosso ser. E é sobre essas capacidades que se vão colocar as capacidades cognitivas. Gostava muito do García Márquez mas nunca tinha ouvido essa frase – e acho que é ótima. Aquilo que se estava a passar era que ele estava a olhar para uma pessoa e não conseguia recordar-se em pormenor de quem era essa pessoa. No entanto, a recordação que ele tinha do afeto ligado a essa pessoa mantinha-se. Ou, em alternativa, mesmo que ele não tivesse uma resposta relembrada do afeto que tinha por aquela pessoa, tinha uma reação emotiva a essa pessoa que era positiva. É uma situação extremamente complexa, muito bela. Essa distinção entre o que é cognitivo e o que é afetivo é absolutamente central para compreender a humanidade e é central para o meu trabalho.
Há pouco, quando disse que menosprezamos as capacidades afetivas, pensei no seu livro O Erro de Descartes, e na famosa frase ‘Penso, logo existo’.
Foi o meu primeiro livro não puramente científico mas também com um pendor filosófico. Tem 25 anos. Esse Penso, logo existo é profundamente erróneo, porque vem de uma ideia de que aquilo que é o ser humano e aquilo que é mais valorizável no ser humano é o pensamento, mas um pensamento concebido no nível cognitivo puro, aquilo que tem que ver com os dados objetivos à nossa volta. Neste momento estou a vê-lo no ecrã, estou a olhar para a minha secretária, posso olhar para o exterior através das janelas e ver as colinas de Santa Monica, as montanhas, o Museu Getty, que está aqui ao meu lado. Tudo isso são aspetos que podem ser descritos através da nossa exterocepção, aspetos que podem ser descritos através daquilo que vejo, que ouço, que toco. Mas o fundamental, o alicerce de tudo isto, é aquilo que tem a ver com o nosso próprio corpo, com a vida que está a manifestar-se no nosso próprio corpo, e cujo estado – bom ou mau – é transmitido através do sentimento. Aquilo que é o seu alicerce, e o meu, é o facto de termos vida, e essa vida pode estar a correr bem fisiologicamente ou não. Se você tiver uma gripe, ou covid, tem uma alteração dessa fisiologia e guess what? Vai sentir-se mal. E sentir-se mal é não ter o sentimento de que o corpo está a funcionar dentro dos parâmetros da homeostasia. E esse aspeto fundamental dos seres vivos em geral, desde que tenham sistema nervoso, é constantemente ignorado – a palavra mais justa talvez seja menosprezado. Infelizmente é essa a maneira como grande parte do mundo funciona. O exemplo mais tocante, e chocante, é a maneira como a inteligência artificial tem funcionado. A inteligência artificial é um exemplo claro do que é uma inteligência sem ligação com a vida, sem ligação com o ser humano. O último dos mini-capítulos do livro está baseado num artigo que escrevi há pouco mais de um ano para a Nature, e que é exatamente sobre feeling machines, máquinas que sentem, sobre a ideia de que a inteligência artificial, até hoje, tem pecado por não prestar atenção à realidade da vida. É um aspeto muito curioso, porque até certo ponto é uma forma inteligente, uma forma esperta, de lidar com o problema.
Porquê?
A nossa afetividade é um aspeto fundamental do que nós somos, extremamente valioso, mas ao mesmo tempo torna-nos vulneráveis. Se as coisas nos correrem mal ficamos tristes. E se correrem muito mal podemos ficar não só tristes mas também zangados. Ou deprimidos. Portanto há uma vulnerabilidade que é introduzida pelos sentimentos. Como a vida é vulnerável, o facto de termos sentimentos permite-nos aceder à realidade dessa vulnerabilidade, o que é evidentemente um handicap. Falamos de qualquer coisa que ao mesmo tempo que é extraordinariamente bela e muito inteligente, do ponto de vista de resolução do problema da vida, precisa também de ser manejada muito bem para não nos criar prejuízo.
Mas será mesmo uma fraqueza? A tristeza tem estimulado grandes inteligências e tem estado na origem de grandes criações na arte, na música, na literatura.
Aquilo que é muito bonito aqui é que, dependendo das circunstâncias, essa vulnerabilidade tanto pode ser boa como pode ser má. Pense no grande domínio da literatura, e em particular da poesia. A maior parte dos poetas que nos podem deliciar com o seu trabalho eram pessoas que estavam constantemente muito cientes das suas vulnerabilidades e das suas fraquezas e daquilo que lhes corria mal na vida, e que foram capazes de transformar essas experiências, por exemplo de tristeza, em magníficas obras que nos deleitam. E isso é muito belo: até mesmo um aspeto como a tristeza pode ser gerador de respostas extremamente inteligentes e produtivas. A tristeza pode ser a fonte de uma resposta tão magnífica que pode não só remover a tristeza como levar à produção de qualquer coisa de extraordinariamente bom e rico tanto para nós próprios como para os outros. Portanto devemos agradecer à História que o Shakespeare não fosse durante todo o tempo uma pessoa muito feliz. Ou que o Fernando Pessoa fosse como era. Ou que Emily Dickinson fosse como era. O fundamental é que se perceba que aquilo que é ser humano não é redutível aos aspetos cognitivos da mente. Pelo contrário. É preciso alicerçar essa mente no que é fisiológico, naquilo que é a vida, naquilo que é o corpo. Não é dizer que somos só corpo, isso seria um disparate. O que não se pode é tentar perceber o que é o ser humano sem perceber o corpo, a fisiologia, e a expressão dessa fisiologia nos sentimentos.
Quando pensamos em nós próprios, a primeira coisa que nos ocorre são as memórias. Memórias do que vivemos, do que aprendemos, das pessoas que conhecemos – são elas que fazem de nós quem somos. Até que ponto a memória, esse grande reservatório de imagens e de palavras, se confunde com a identidade, com a consciência e com o ser?
Eu diria que não se confundem.
Mas quando alguém perde a memória é quase como se perdesse a identidade…
Claro. Aquilo que diz respeito aos factos da nossa vida é extremamente importante para a construção da nossa pessoa. Mas mesmo aí essa construção que são as memórias cognitivas está constantemente ligada à maneira como sentimos e ressentimos esses factos. Mas vamos imaginar que temos uma pessoa com uma síndrome demencial grave, em que há uma enorme perda, geralmente no aspeto cognitivo, tal como no caso da pequena história do García Márquez. Aquilo que é a nossa vida, aquilo que é a nossa história e a nossa identidade, não é puramente cognitivo. É cognitivo misturado com o afeto. A vários níveis. Aquilo que lhe aconteceu até hoje, a si, em matéria de factos, foi em grande parte filtrado através daquilo que é o seu afeto. Há certos vários factos que não teriam ocorrido se o seu afeto não fosse como é. Há uma constante mistura desses dois aspetos e pode vincar isto à vontade: aquilo que é fundamental no meu trabalho e no meu pensamento tem a ver com esta mistura do que é afetivo com o que é cognitivo. É por isso que o livro se chama Sentir & Saber.
Falou-me de inteligência artificial. Há dias dei-me conta de que os homens estão cada vez mais a transferir as suas capacidades para dispositivos que lhe são exteriores. Por exemplo, um livro ou um disco rígido fazem o papel de uma memória externa, em que a informação passa a estar ali depositada em vez de a termos dentro de nós. Até que ponto esta tendência para transferir ou delegar certas tarefas em máquinas ou aparelhos pode, a prazo, atrofiar as nossas capacidades? Hoje vemos cada vez mais pessoas que não são capazes de trocar uma lâmpada fundida pois só sabem carregar em teclas e fazer deslizar a ponta dos dedos no ecrã do telemóvel.
Sem dúvida. Há uma enorme redução das nossas capacidades de manejar o mundo que nos circunda. É extremamente complicado e não vejo que nos traga benefícios de qualquer espécie. Vamos assistir, por exemplo, a uma redução do acesso a memórias. As pessoas estão tão habituadas a ter memórias nos seus portáteis que deixam de exercitar a sua. É muito possível que, se você remontasse cem anos, encontrasse pessoas que inconscientemente fizessem exercícios de repetição que poderiam ter lugar durante a noite, em sonhos, o que hoje em dia ninguém vai fazer. Para que é que você precisa de decorar um número de telefone se lhe basta carregar num botão para o encontrar? De certo modo estamos a ficar cada vez mais ineficientes, para não dizer que estamos a ficar mais tontos e parvos. [risos]
Li há dias que já teria nascido a primeira geração com um q.i. médio inferior ao dos pais – e julgo que por culpa da tecnologia. Esta delegação excessiva de competências na tecnologia pode ser um pouco incapacitante?
Sem dúvida.
No epílogo fala-nos, e vou citá-lo, da “poderosa mente humana”, das “extraordinárias capacidades de raciocínio, decisão e criação”. Isto parece-me uma visão muito optimista, uma vez que essas qualidades e capacidades não impedem os homens de agirem de forma irresponsável, estúpida ou mesmo irracional. Por que o fazemos?
Porque é que somos irracionais?
Exato.
Excelente pergunta. Se eu soubesse a resposta resolvia imensos problemas. [risos]
É a nossa herança primitiva a falar mais alto?
Não só. Se nós estivéssemos a conversar num sítio normal, frente-a-frente, ao fim de uma hora eu teria uma certa ideia daquilo que você é e você teria uma ideia de mim, à parte daquilo que você sabe de mim através de livros, artigos de jornal, entrevistas, God knows what. E aquilo que verificaríamos nesse nosso encontro é que até um certo grau somos extremamente parecidos e a partir de um certo grau somos muito diferentes. Como seres humanos somos comparáveis – a mesma idade, o mesmo sexo, o mesmo cultural background, são esses aspetos que nos permitem ter um espaço cultural relativamente semelhante. Mas ao mesmo tempo temos uma individualidade. E é essa mistura que faz com que as pessoas tenham, no geral, uma enorme capacidade criadora, desde a criação artística à criação tecnológica. Temos constantemente demonstrações dessa capacidade, o que não quer dizer que ela esteja distribuída igualmente por todos os seres vivos. É evidente que não está. Há pessoas que são excecionais em capacidades boas e outras que são excecionais em capacidades más. Infelizmente temos exemplos abundantes de pessoas, bem conhecidas do mundo das notícias, que são horrorosas como seres humanos.
Pode dar um exemplo?
Não, não posso. Você tem o exemplo na sua cabeça, não precisa que eu lho dê. [O exemplo que vem à cabeça do entrevistador é Donald Trump.] E portanto há pessoas que são extraordinariamente horríveis em matéria de mentira, em matéria de falsificação da verdade, em matéria de desprezo pelos outros. Mas estas pessoas são, do ponto de vista exterior, iguais a outras que podem estar a criar, por exemplo, uma vacina contra a covid. Temos de fazer justiça a essa complexidade dos seres humanos. E de reconhecer que há grandes capacidades de criação mas ao mesmo tempo há a lamentar – e há que precavermo-nos contra, também – as enormes capacidades de destruição que certos indivíduos têm. Mas nada disto é diferente daquilo que poderia ter sido descrito na Grécia Antiga ou naquilo que está contido magnificamente nas peças de Shakespeare. Ou na Bíblia. Todos estes aspetos humanos estão demonstrados nas peças de Shakespeare. Desde os mais agradáveis aos mais detestáveis. E é possível ser Hamlet [o trágico e indeciso príncipe da Dinamarca, cujo trono é usurpado pelo tio], e é possível ser Macbeth [que ambiciona ser Rei], e é possível ser Lady Macbeth [que intriga e manipula o marido para o levar a cometer o regicídio e tornar-se Rei], e é possível ser one of the marvelous female characters of A Midsummer’s Night Dream [uma das maravilhosas personagens femininas de Sonho de uma Noite de Verão].
Referi a palavra optimismo a propósito das considerações que faz no livro sobre as capacidades da mente humana. Diria que hoje o mundo está muito dividido entre aqueles que veem o apocalipse ao virar da esquina, nomeadamente sob a forma das alterações climáticas, e aqueles que veem a humanidade como uma caminhada em direção a um cada vez maior aperfeiçoamento, como Steven Pinker. Entre estas duas posições – uma mais sombria, a outra mais ‘iluminista’ – onde é que se posiciona?
Mais no lado otimista. De um modo geral sou otimista. E até consigo ser otimista em dias em que tudo corre mal. Consigo ser optimista apesar de este ter sido até agora um ano horribilis. Temos tido desastres climáticos, sem dúvida [o estado da Califórnia, onde António Damásio reside, foi atingido por fogos violentos que mataram 33 pessoas, queimaram mais de 1,7 milhões de hectares e provocaram um prejuízo estimado de dois mil milhões de dólares], desastres de saúde e desastres políticos. Mas ao mesmo tempo também temos coisas boas. Há covid, mas também há um desenvolvimento mais rápido, do ponto de vista histórico, de vacinas – múltiplas vacinas. E neste momento, tanto nos Estados Unidos como em Inglaterra, e espero que em breve também na União Europeia, começam a ser vacinadas as pessoas que estão em maior risco. É uma tristeza que tenha havido a doença, é uma tristeza que tenha havido um mau manejar da doença a princípio. As pessoas, no fundo, nunca acreditaram que isto seria uma coisa grave, e quiseram, conscientemente ou não, ignorar o problema. Mas ao mesmo tempo temos o desenvolvimento das vacinas que é extraordinário. É esta dualidade que está sempre presente.
E encontra mais aspetos positivos?
A primeira versão deste livro foi escrita mais rapidamente do que o habitual porque houve mais tempo. O mais tempo para mim é não viajar. Normalmente viajo imenso. Para este ano tinha agendadas pelo menos nove viagens à Europa – não fiz nenhuma. Isso foi uma tristeza por não poder estar com as pessoas e nos sítios onde gosto de estar, mas foi também uma enorme bênção de tempo que tive e que foi inesperada.
Então tratou-se de um annus horribilis mas não para si…
Yes and no. É um in between [meio-termo]. Consegui escrever o livro mais concentradamente. Quando acabei a primeira versão, e a dei a vários dos meus amigos a quem normalmente peço conselhos sobre aquilo que escrevo, uma coisa que várias pessoas disseram foi: ‘O livro é extremamente pessimista’. E eu reli-o e modifiquei várias coisas exatamente para não ser tão pessimista. Porque no fundo não sou pessimista. Tenho uma enorme dificuldade em ser pessimista durante muito tempo. E tenho uma enorme dificuldade, que julgo estar relacionada com a anterior, em ficar furioso durante muito tempo. Posso ficar irritado… mas depois passa.